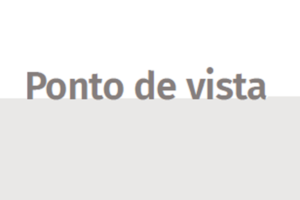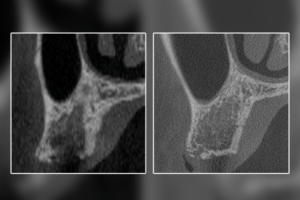As revisões sistemáticas da literatura foram criadas para apreciar o nível da evidência atual e se diferenciam dos outros modelos (especialmente o narrativo) por três características fundamentais:
1. Uma metodologia amplamente descritiva do que foi pesquisado, selecionado e será discutido;
2. O uso de alguma escala qualitativa (Syrcle, QUIN, Newcastle-Ottawa, ROBINS-I, entre outras) para determinar os vieses em cada trabalho;
3. E a cereja do bolo: o gráfico de metanálise, nem sempre possível, devido à dificuldade de agrupamento dos artigos selecionados.
Em geral, toda tentativa de se criar e implantar um modelo rigoroso passa por desafios — e não é diferente com a revisão sistemática.
No entanto, no dia a dia, nota-se um certo preconceito com as revisões sistemáticas. E não é pelo processo altamente estruturado ou pelo tempo necessário para sua elaboração, mas sim porque as escalas qualitativas acabam por incomodar os autores avaliados. Esse é um aspecto curioso, já que, em ciência, o que se debate são as ideias — e não as pessoas (falácia ad hominem). Ciência é contribuição para o progresso da espécie, seja ela financiada publicamente ou não.
Outro ponto ainda mais curioso é quando se questiona por que “esse” ou “aquele” trabalho não foi incluído na revisão final — o que aumenta ainda mais esse desconforto. Ou é só a minha impressão? Vendo pelo outro lado da moeda, abre-se uma chance para entender melhor quais áreas necessitam de maior esclarecimento.
Verdade seja dita: a ciência é sempre um produto em desenvolvimento, com aplicações em curto, médio ou longo prazo. Quem consegue publicar é quem chega primeiro e garante a paternidade do trabalho. Mas que não sejam os únicos, certo? Afinal, essa corrida depende não só da boa vontade humana, mas muitas vezes de financiamento, palpites fundamentados (educated guesses), persistência — e uma pitada de sorte.
Do outro lado dessa moeda, estão os editores e revisores, funcionando como uma porta de entrada repleta de checklists. Vale lembrar: mesmo artigos aceitos e publicados nunca estarão livres de vieses, em maior ou menor grau. Não existe o paper 100% perfeito, mas sim o melhor que se pôde fazer nos moldes da ciência naquele momento.
Esses checklists usados pelos editores também não são infalíveis. E é justamente por isso que as escalas qualitativas em uma revisão sistemática contribuem: elas mostram se a evidência disponível atingiu um grau de confiabilidade que permita seu uso rotineiro na prática clínica.
Nosso objetivo deve ser começar rastreando toda a evidência disponível, e evoluir para a evidência disponível mais robusta. Funciona como uma auditoria — sem a intenção de punir ou constranger. A evidência mais sólida hoje pode não ser a de amanhã, especialmente no século XXI.
Vale lembrar: informação de qualidade custa. Nem sempre o melhor conhecimento coletivo disponível estará nas redes sociais, com suas lives infladas de “sustos” e “trens fantasmas”, planejadas para drenar o seu tempo (e o seu dinheiro).
Continuemos atentos às novas propostas de tratamento que desafiam — às vezes, assustadoramente — a biologia dos tecidos periodontais e peri-implantares. E que, num futuro próximo, essas informações sejam dignas do crivo das novas revisões sistemáticas.
Paulo H. O. Rossetti
Editor científico.
Orcid: 0000-0002-0868-6022